Recebi a pergunta por escrito na rede digital na qual compartilho meu percurso de estudos pelo campo da suicidologia. Qual o impacto emocional, para o profissional, no atendimento de pessoas em risco de suicídio? Pensando sobre uma resposta que contemple a complexidade que envolve receber e atender pessoas em risco de suicídio, decidi escrever sobre isso.

Quando recebemos uma pessoa em risco de suicídio estamos tratando de um sofrimento diferente do sofrimento reconhecido pela psicanálise – os ditos sofrimentos causados pelo adoecimento da neurose. Cabe ressaltar: a neurose configura um tipo de adoecimento particular, não se restringindo meramente uma “forma de ser” no universo da linguagem.
Uma vez que o suicídio implica um risco de rompimento com a realidade, com o real e a vida, estamos lidando com um tipo de sujeito que está “solto” ou “se soltando” da trama significantes enodada na cena do Outro.
A clínica do suicídio tem suas peculiaridades.
Não são todos os profissionais que topam essa clínica, e não há nada de errado em não topar.
Para os que topam — por vezes sem sequer saber da profundidade do buraco no qual se enfiaram — a situação da transferência se complexifica, pois se escancaram variáveis que impactam o tratamento e que até então eram desconhecidas. Surgem questionamentos: “Como devo abordar essa situação? A regra da abstinência se aplica? Pensei em manejos que vão contra o que aprendi em psicanálise, e agora?” e outras perguntas que surgem conflitando com o que o psicanalista sabe sobre a condução de um tratamento “clássico”.
Diante de uma pessoa em risco de vida, definitivamente, não estamos manejando um “caso clássico”. Coloco entre aspas pra definir o paradoxo que existe nessa palavra: é muito comum que escutemos de psicanalistas que a clínica e o tratamento em psicanálise se dá no “um a um”, no “caso a caso”, mas paradoxalmente, quando um paciente “não cabe na estrutura” que a teoria propõe, frequentemente, observa-se um esforço do analista para “espremê-lo” para entrar nesse modelo – uma atitude de recusa ao “caso a caso”.
Esse esforço para transformar uma pessoa num “caso clínico” é violento de muitas formas, sobretudo com o paciente, mas também com o analista, que fica privado dos desdobramentos que o simples questionamento “isso realmente faz sentido aqui?” poderia trazer.
Em psicanálise recebemos a recomendação de não desejar o bem do paciente, nem de que tenhamos pretensão de curá-lo – isso decorre da advertência de que o nosso entendimento do que seria “o bem” deriva de um código pessoal do profissional, e que não se aplica à realidade dos pacientes. No atendimento de pessoas em risco de suicídio, um fator importante se apresenta para o tratamento: o risco real de vida. Desejar que o paciente não morra frequentemente é confundido com “desejar o bem” do paciente. Nesses casos, o desejo de analista depende do desejo de que o paciente siga em vida.
Para estar a frente, conduzindo o tratamento de pessoas que flertam com o suicídio, é preciso que nós, profissionais, desejemos explicitamente que o paciente esteja vivo — afinal, só há análise quando existe uma pessoa viva, falante, não é? — sobretudo se esse paciente é jovem (e na maioria das vezes, é). Você, profissional que recebe, ou já recebeu, pacientes que flertam com o suicídio, faça as contas de quantos desses pacientes eram ou são idosos, ou jovens. Daqui, faço a aposta de que são maioria jovens. Me escrevam confirmando?
Uma das características na intencionalidade suicida é a ambiguidade; nos pacientes jovens isso é claramente percebido: a pessoa verbaliza que deseja morrer, mas ao mesmo tempo, deseja ardentemente viver uma vida que lhe seja possível. E é nesse ponto que alguns chegam até nós, correndo risco de vida devido à dor psíquica dilacerante que os mobiliza para impulsos destrutivos, mas desejando uma vida possível, e apostando suas poucas fichas no tratamento clínico.
Só pelo simples fato de desejarmos que o paciente viva e não morra, cria-se um conflito ético para o profissional – afinal, estamos ali para escutar o sofrimento de nossos pacientes, e não para salvar ninguém da morte, sequer temos esse poder. Trabalhar com o risco de suicídio na clínica, é trabalhar de mãos dadas com a sensação e a possibilidade de fracassar a qualquer momento. E isso é muito difícil para nós, profissionais, sobretudo porque a vida de nossos pacientes nos importa e desejamos a nossos pacientes uma vida que seja possível viver.
Sinceramente, se você, psicanalista ou psicólogo, se exime de desejar aos seus pacientes uma vida possível, de desejar que “o pior” se torne apenas “ruim”, você não deveria estar desempenhando essa atividade — porque na clínica estamos lidando com o tempo de vida das pessoas.
Inclusive, o tempo: lidar com o tempo de vida do outro ganha um novo significado diante do atendimento de pessoas em risco de suicídio. Como profissionais, desejamos ter tempo de vida com esses pacientes. Tempo para falar e elaborar sobre a dor psíquica, e de esperançar que, ao dar representações simbólicas para essa dor, isso mude as coordenadas traçadas para antecipar a morte.
Se você me acompanhou até aqui, percebeu que atender uma pessoa em risco de vida é completamente diferente de atender quem voltará na semana seguinte. Os manejos são diferentes e a disponibilidade do profissional deve ser outra.
Os impactos emocionais para o profissional não deixam de existir. O que muda é que passamos a admitir a existência e a permanência desses impactos, e de certa forma atuamos com esses afetos como coadjuvantes na condução desses tratamentos, e isso não significa abrir mão da técnica e da ética.
Significa que quanto antes admitirmos e aceitarmos a visita dos nossos afetos durante o tratamento, melhor poderemos lidar com eles. Afinal, não existe uma relação de hierarquia entre razão e emoção; a ideia de que a razão deve sobrepor à emoção é uma ideia eurocêntrica, eu diria até higienista.
Ao profissional que acredita ser possível uma prática clínica dissociada da emoção do afeto, baseada unicamente na razão e na técnica pura, é melhor que estes não se arrisquem na clínica do suicídio — que continuem suas práticas com os “casos clássicos”, pois suas condutas talvez sejam mais adequadas a estes.
Aos profissionais que vivenciam a impossibilidade dessa separatividade e estão conduzindo casos delicados de risco de suicídio, a estes, dedico meu respeito, apoio e contribuição profissional a uma prática clínica possível e afetuosa.
Agora, respondendo a pergunta, como eu lido com o impacto emocional no atendimento de pessoas com risco de suicídio, respondo: eu lido admitindo-o. O impacto existe e validar seus efeitos é um começo para lidar com o que é oriundo disso. Isso é a clínica, nua e crua, de forma expandida. Que transborda pra além das fronteiras do consultório.
Sigo apostando que o afeto, somado à teoria, aprimora a técnica.
Dessa soma, resulta a bússola da ética.
E você, como tem lidado com o impacto emocional no atendimento de pessoas com risco de suicídio?
Me escreva.
Jessica Falchi Caçador
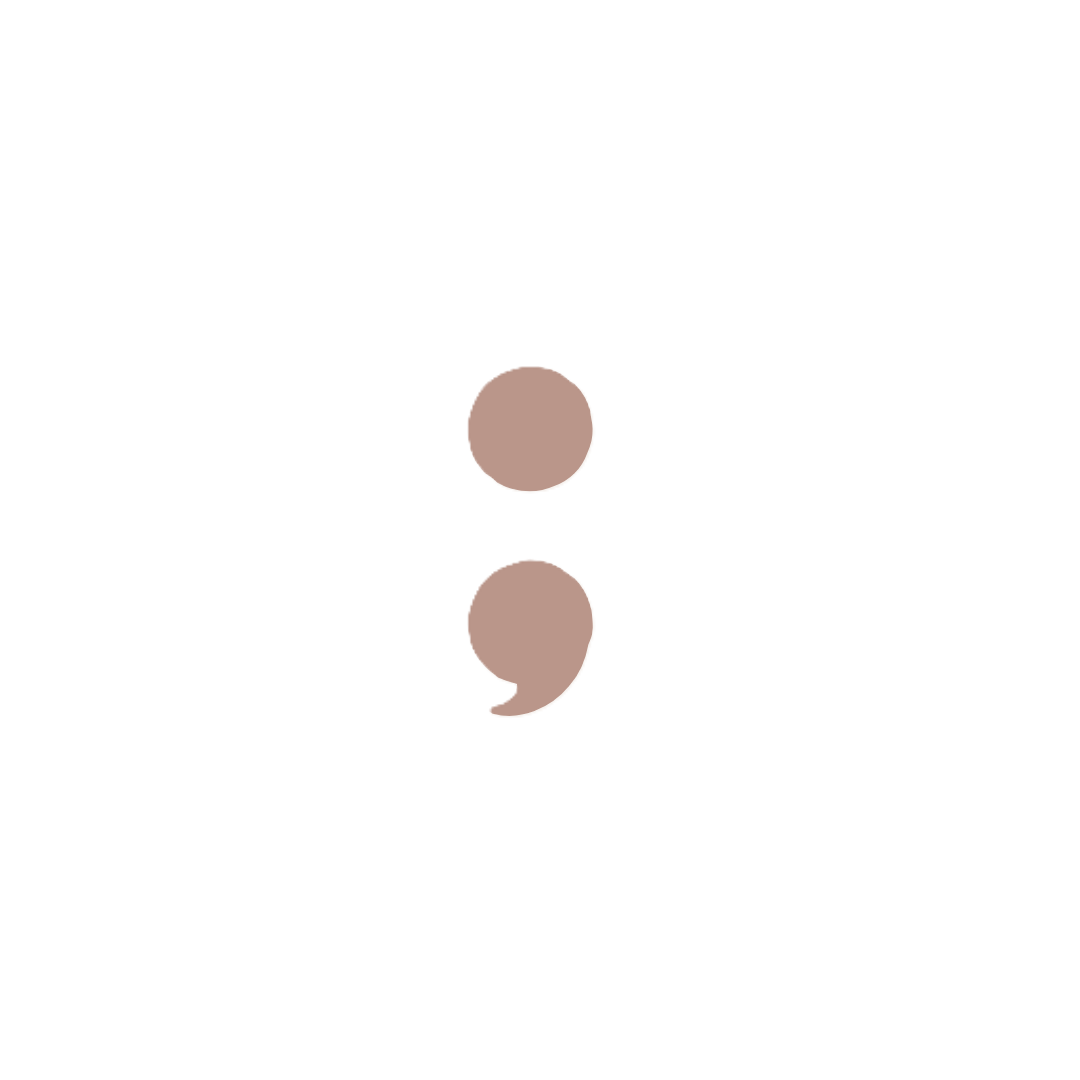
Deixe um comentário