Um dos principais esforços da clínica psicanalítica é de converter uma angústia não simbolizada em palavras, a fim de buscar um rastro a ser seguido, um caminho a ser construído na relação de alteridade que se estabelece entre analista e analisante.

Consiste nisso a raiz do nosso ofício, aliás, esbarram aí também nossas resistências e dificuldades de avançar nos casos. Preconceitos, pontos cegos, dificuldades com os discursos e narrativas que nos afetam. Então buscamos por supervisão, que consiste neste encontro com outro profissional, onde o objetivo é discutir junto de um outro que não está afetado pelo caso possíveis oxigenações para os entraves que bloqueiam nossa escuta. Para estes encontros entre profissionais, prefiro até o termo “outra-visão” – porque me parece que retira a relação de hierarquia que o termo “super” sugere.
Não posso deixar de pensar o quão sério é o trabalho de um supervisor; oxigenar o desejo de analista do profissional que o procura, cuja finalidade é, e deveria ser, alçar efeitos de cura (essa palavra machucada e banida do vocabulário dos psicanalistas) que alcancem a outra ponta – o paciente. A supervisão é isso: um momento de reinaugurar o desejo de que aquela análise siga desenrolando, que autoriza e incentiva o ato analítico e que produza direção e cura para os tratamentos. Uma supervisão que pedagogiza o supervisionando, que foca na relação de saber e poder sobre o que é certo e o que é errado, mina as preciosidades da clínica: desejo e ato.
Recebo muitos supervisionandos angustiados relatando falta de progresso em seus casos quando estiveram com supervisores que se ocupam de falar difícil, de envaidecerem-se do lacanês e ostentar interpretações que não auxiliam a desnublar os impasses que esses analistas encontram em suas clínicas.
A mim, fica claríssimo: se uma supervisão minimamente não auxilia o analista com o caso, é preciso que se busque por outras.
Entendo que a banalização da angústia acontece também em supervisões.
A mim, a coisa parece soar mais ou menos assim: se você se afeta pelo que teu analisando está relatando, você é fraco, você não é profissional, você não é um bom analista. Se você se angustia com um desfecho ou situação da clínica, você não é um bom analista. Se você se preocupa com a integridade física, emocional e mental do analisando, você não é um bom analista. Um bom analista sabe fazer manejos estritamente teóricos e embasados no que Lacan uma vez ousou dizer nos seus seminários e blablablá. Ficou cada vez mais difícil encontrar um bom supervisor, um profissional com o qual a troca aconteça e flua para além da teoria.
Me parece que este posicionamento que escorrega para o tecnicismo banaliza e não legitima as angústias que envolvem o trabalho na clínica – daí vira um tecni-cinismo. Como se quanto mais você se afeta, menos técnico e letrado você é, e quanto mais técnico você se torna, menos poderia se afetar, e menos ainda poderia se envolver, afinal, você deveria estar protegido pela técnica. Coisas que foram perdendo cada vez mais o sentido pra mim, e pelo que ando escutando, não sou a única pensando sobre.
Afetar-se, envolver-se, parecem palavrões e jargões banidos de supervisões, grupos de estudos e encontros entre colegas. Palavras machucadas, que esvaziaram-se e perderam sua importância diante do principal afeto com o qual lidamos: angústia.
Pois bem, o trabalho da clínica envolve muita angústia, sim. Muita renúncia. Muito afeto. Muita causa. Muito desejo.
Será que banalizamos a angústia de nossos analisandos?
Será que estamos lidando com tantos tipos de angústia que a banalizamos, colocando-a em uma grade de horários e agendas?
Será que banalizamos a angústia dos supervisionandos quando estes buscam, pr’além de teorias, também algum acolhimento no contato com outro profissional, com outra pessoa?
Questionamentos que tenho levantado ao longo dos últimos anos, a partir da experiência de supervisionar e ser supervisionada.
Obrigada por ler até aqui,
Jessica Falchi Caçador
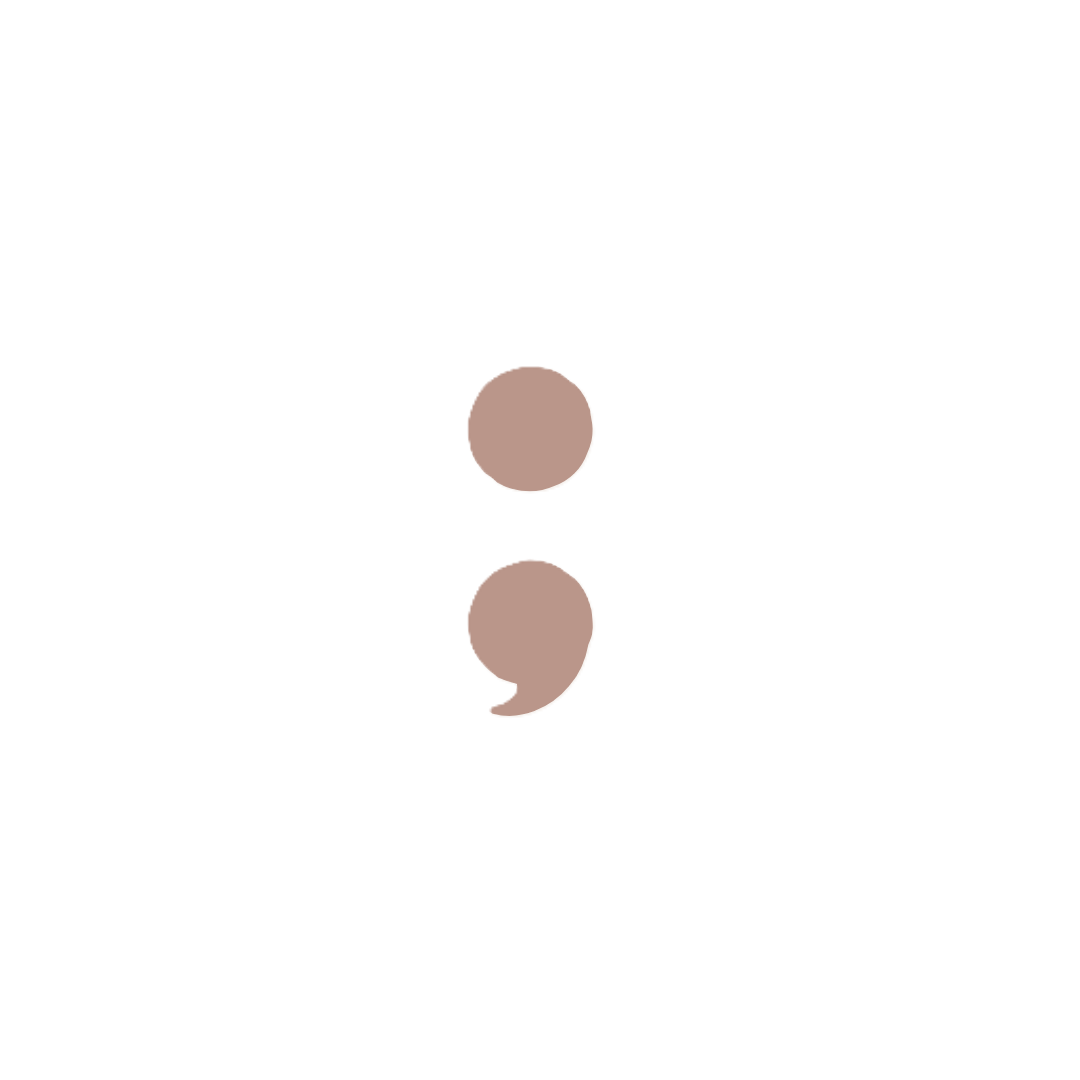
Deixe um comentário